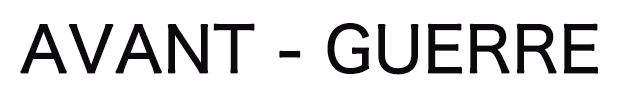Synopsis
PATHOS ETHOS LOGOS by Luis Miguel Cintra (EN, PT) and Abbot Bernardino Costa (PT)
PATHOS ETHOS LOGOS por Luis Miguel Cintra e D. Abade Bernardino Costa
Luis Miguel Cintra on PATHOS ETHOS LOGOS (excerpt)
It’s been a long time since I felt so tiny when faced by a work of art. Suddenly, Joaquim and Nuno, from whom I still expect everything, principally for affective reasons, with the happiness which only survivors are capable of, throw me with a whopping work which changes everything: 10 hours of cinema which I follow with all my being, but leave me excluded. What is this?
At long last! I hadn’t yet got here, and I don’t know whether I shall. I don’t know if I will ever exhaust the open land of multiple registers which the film offers me, shaking up the whole of my life. But now I know that thanks to God (Gracias a la vida... of course, you can hear it in the film) I will carry with me what this heap has left in my heart; another great testimony of love of life, of attention for others, a great gate to a renewal of consciences. It was much needed.
But what do they want to tell me? And there comes the first surprise. They don’t want to tell me anything, or they want to tell everything. They simply want to give me what they have seen or invented they’ve seen, how and what they think. It’s about time we understand what we are and that only through living can we understand, no matter how many stories get lost in life. We will never understand anything if we are led by mere accounting and gestures. Nothing has borders. It is as we wish. But what about style and forms? I don’t recognize this form, the form of the most chameleon-like of films. And yet it’s got its intense organization... On a high, I conclude; this is a new cinema. As marginal as low budget and as rich as extensive, so much as daily life, so obviously made with the family silver. Do you know why? Because believe if you like, only out of family silver will emerge true gold. Going back to the language of theatre which suits me best, the star of Nazareth will appear in a paper sky. The same place where once I proposed taking Jeanne Moreau. But she wanted to go on her own. She knew the way. She was already one of those many stars lost in the sky. But that’s not bad. Stars appear and get lost all the time in the paper sky of this film about our thoughts.
Ruben, the little boy, the child of the parable of the holy family or the Holy Trinity. I don’t know which. He was born outside his time since we already see him in our future at the start of the film, and only at the end do we hear his birth, on his father’s death (or was it St. Joseph?). He will have to think a lot until he discovers that at his birth a star appeared again over the dark sky of Bethlehem. Perhaps he won’t discover what little by little we recognize as flowing through the entire film at only the end reveals its meaning, surprisingly, in a close-up of a dog. He, who did not know his father, will feel that his star, as many others, are not to be found. They are lost. You don’t live like that anymore. But Ruben heard a human cry when he was born. It was his mother’s voice that screamed “Claudio”! Perhaps he will suspect when looking at the thousand points of light which in this film are always emerging from the darkness, perhaps he will find out that if the Machine speaks about “Clouds” which at night wipe out the stars, it’s by looking at the sky that he will finally understand what blue really is, the loveliest of colors because it is his mother’s. And he will discover that she did not die, she is in a sky, as John tells in the Apocalypse; she got there by crossing a desert.
Then he must start searching for his father. There was a voice that cried out “Claudio.” That voice is at the end of the film. It was his mother’s, but Ruben can’t remember. Ruben neither saw nor heard the scream. But that name, he will try to find out if it is the name of God, and indeed suspecting that he is a child of God. He doesn’t know why his mother disappeared in the desert. It will be hard to discover that the light he thought he saw on the day of his birth, when death saw light, was the Star of Bethlehem. He will have to find out again on his own, alone with his mobile phone.
“Cosa sono le nuvole?” asked Ninetto Davoli, a marionette puppet downed on the rubbish tip at the time of his death, because he had never seen the sky. I still recognize myself in Pasolini. We speak with the same symbolic grammar. Pasolini still lived with a memory of popular language which we no longer have. Pasolini got to know the heaven of the land of peasants on summer nights, he managed to film it. We, namely I, reinvented it in a forest of metaphors dearest to me. I dreamed it, but I never actually saw it.
But this film does not like metaphors. It likes life, even if it’s that of the family silver which is available as its material, maybe because it likes it better than any philosophical apparatus that might dignify it as a representation of the work of God. There’s neither good nor evil in Joaquim and Nuno’s film. They hit the bottom of the pool and they know it’s not the sea.
Pilate does not interest them. The Apocalypse is what matters. What matters is John’s disproportion. His generosity. They think, they think a lot, they are always thinking. Not for an instant do they fight the lie that doesn’t stalk them all the time, as it happens to me. It doesn’t interest them. What matters is understanding the relations between everything they think they know.
It is important to understand. It’s important whether to have faith or not to have faith, but with no sin. They believe in the evidence, and they count on their feelings. The Magi knew, now it’s for us to understand. And the two authors know that there are many useless machines, we can’t understand why they were invented. But they like some other machines that keep the memory of what the eyes also saw, already deformed by filters and changing lenses. Those cameras and microphones amuse them.
I can well understand this but I never managed to do it. It’s a pity to spoil the work of God, spoil everything with industrial touches. Sometimes it was thus I thought, and Pasolini, too, when he denied his trilogy. But it was bad to deny. Arrogance, vanitas - And afterwards? That’s what the fado says. For a swallow to die, spring doesn’t end. I know this now but there are always things to learn.
Joaquim and Nuno’s film is not a praise of God. I think they would say they are not prepared. It’s not even yet a prayer. There is an unstoppable thanksgiving that does not let you ever settle down, you know... Or don’t you want to know?
Luis Miguel Cintra
Luis Miguel Cintra sobre PATHOS ETHOS LOGOS (texto completo)
Há muito tempo que não me sentia tão pequeno perante uma obra de arte.
Estou cansado. Parece que já tenho discurso para as ver por aí, aos pontapés, já piso terra conhecida, fico a marcar passo e deixo-me ficar. Tenho medo de concluir que o meu tempo já passou. Tenho fugido à banalidade ignorante do que vejo, mas entristece-me toda a arte antiga deixar de conviver com as pessoas e ter passado a museu, humilhada com a etiqueta que lhe puseram de obra prima de fácil acesso em reprodução mecânica, e vou pela primeira vez a um estádio de futebol à procura de uma exaltação física e primitiva com saudades das touradas, já destruídas pela hipocrisia. Tenho tédio de ver o que desejámos e tentámos fazer como uma espécie de sopa de pedra para conforto melancólico dos vencidos, enfim, perdi a minha alegria de viver, mas espero a surpresa de uma renovação que gostaria que fosse irmã da violenta esperança do maior político vivo, o Papa Francisco, brandindo no meio da tempestade global as palavras do Evangelho.
Vejo o último filme do Pedro Costa comovido pela fidelidade intransigente á sua pureza de traço, e de repente, o Joaquim e o Nuno, de quem evidentemente já espero tudo, muito por razões afetivas, com a alegria displicente que só conseguem os sobreviventes, atiram-me com um calhamaço, que tudo vem mudar: são 10 horas de cinema em que navego como na minha alma, mas que me deixam interdito: o que é isto?
Até que enfim! Eu ainda não tinha chegado aqui e não sei se ainda vou chegar. Não sei se esgotarei alguma vez o campo aberto da multiplicidade de registos para onde o filme me lança e que é afinal o mesmo em que eu constantemente me vejo sacudido pela minha vida. Mas agora sei que, graças a Deus, (Gracias a la vida… está claro, ouve-se no filme) levarei comigo o que esse calhamaço por certo deixou no meu coração: outro grande testemunho de amor à vida, de atenção aos outros, uma grande porta para a renovação das consciências. Estava a fazer falta.
Mas que é que eles me querem dizer? E aí vem uma primeira surpresa. Eles não me querem dizer nada, ou querem dizer tudo, querem simplesmente dar a ver e ouvir o que viram ou inventaram que viram, como e o que pensam, pensando que talvez já seja tempo de percebermos todos o que somos e que só a viver perceberemos, por mais histórias que viver deite a perder. Nunca entenderemos se formos levados por contabilidades e gestões. Nada tem barreiras. É como desejarmos. Mas e as formas? Eu não reconheço esta forma, a forma do mais camaleónico dos filmes. E, no entanto, tem a sua intensíssima arrumação. Concluo exaltado: isto sim, este é já um cinema novo. Tão marginal como de baixo orçamento e tão rico como extenso, e tão quotidiano, tão feito com a prata da casa. Sabem porquê? Porque, acredite quem quiser, mas só na prata da casa surgirá oiro de lei, isto é, recorrendo à imagem teatral que mais me quadra, a estrela do presépio é num céu de papel que surgirá. O mesmo para onde me propunha um dia destes levar Jeanne Moreau. Mas ela quis ir sozinha. Sabia o caminho. Já era uma das muitas estrelas que ficaram perdidas no céu. Não faz mal. A toda a hora surgem estrelas que se perdem no céu de papel deste filme sobre o nosso pensamento.
O Ruben, o rapazinho, o filho desta parábola da sagrada família ou da Santíssima Trindade, não sei, e que nasce fora do tempo, visto que já o vemos no nosso futuro ao princípio do filme e só no fim do filme ouvimos o seu nascimento, na morte do pai ( ou era São José?), vai ter de pensar muito até descobrir que no seu nascimento apareceu outra vez uma estrela por cima de uma cidade de Belém sem luz .Talvez nem descubra o que a pouco e pouco se vai reconhecendo e que atravessa todo o filme e só no fim revela o seu sentido, espantemo-nos, no grande plano de um cão. Que não conheceu o pai. Vai sentir que essa estrela e outras como ela já não as encontra, estão perdidas. Já não se vive assim. Mas o Ruben ouviu quando nasceu um grito humano: era a voz de sua mãe que gritou Cláudio! Vai talvez suspeitar quando olhar para os milhares de pontos de luz que neste filme estão sempre a surgir das trevas, vai pensar e talvez descobrir que se a Máquina fala em “clouds” que à noite tapam as estrelas, é a olhar o céu, que vai finalmente descobrir o que será o azul, a cor mais linda porque essa é a cor do lugar de sua mãe e vai descobrir que ela não morreu, está num céu, como João conta no Apocalipse, foi para lá atravessando um deserto.
Começará então a procura do pai. Houve uma voz que gritou Cláudio. Essa voz está no fim do filme, seja ela de quem for. Era a de sua mãe, mas o Ruben não se lembra. O Ruben já não viu nem ouviu o grito! Mas é esse o nome que toda a vida irá tentar saber se é afinal o nome de Deus, sim, oxalá suspeite que é filho de Deus. Não saberá porque foi que a sua mãe desapareceu no deserto e vai ser difícil descobrir que a luz que ele julgou ver no dia do nascimento, quando a morte viu a luz, era a estrela do presépio. Vai ter de redescobrir debaixo de um cobertor sozinho com o portátil.
Cosa sono le nuvole? Perguntava Ninetto Davoli, marioneta atirada para a estrumeira na hora da sua morte, porque nunca tinha visto o céu. Eu ainda me reconheço em Pasolini, e Tolentino pelos vistos também, que assim chamou *as suas crónicas no Expresso. Falamos com a mesma gramática dos símbolos. Pasolini ainda viveu com uma memória da língua popular que nós já não temos, Pasolini conheceu o céu da terra dos camponeses das noites de verão, conseguiu filmá-lo… Nós, quer dizer eu, reinventei-o para mim na floresta das metáforas que me é querida. Mas sonhei—o, na verdade nunca o vi.
Mas este filme já não gosta de metáforas. Gosta da vida, mesmo que seja a da prata da casa que é a que lhe é dado usar como material, porque ama-a talvez mais que qualquer aparato filosófico que o dignificasse como representação da obra de Deus. Já não há bem e mal no filme do Joaquim e do Nuno. Bateram no fundo da piscina e sabem que não é o mar. Pilatos não lhes interessa. Interessa o Apocalipse. Interessa a desmesura de João. A generosidade. Mas pensam, pensam muito, estão sempre a pensar... E nem por um instante combatem a mentira que não os espreita a toda a hora, como me acontece a mim. Não lhes interessa. Interessa-lhes perceber as relações entre tudo o que julgam conhecer. E ainda lhes interessa perceber. Interessa-lhes ter ou não ter fé, mas sem pecado. Acreditam na evidência e para pensar contam com as sensações. Houve os Reis Magos que conheceram, deixaram para nós agora perceber. E acham os dois autores que assim como há máquinas que não prestam, não se percebe porque foram inventadas, há outras de que gostam muito, umas que guardam a memória do que os olhos também viram, e viram evidentemente já deformado por hábitos de filtros e de troca de objetivas e do que os ouvidos ouviram agora já transformados com mudanças de formato... Essas câmaras e os micros, divertem-nos. Isso eu entendo muito bem, mas nunca consegui fazer. Era mal trair a obra de Deus, sujá-la com truques industriais. Algumas vezes pelo menos foi, assim que pensei, e Pasolini também, quando renegou a sua trilogia, mas renegar também foi mal, foi arrogância. Vanitas. E depois? Lá diz o fado: por morrer uma andorinha não se acaba a primavera. Agora já percebi isso, mas há sempre coisas para conhecer.
O filme do Joaquim e do Nuno não é um exercício de louvor a Deus. Julgo que eles diriam que ainda não estão preparados. Não é (ainda?) uma oração. Há uma imparável ação de graças, isso sim, que não deixa nunca perceber nem sossegar, já se sabe. Ou não querem saber isso? Que nunca perceberemos, ou Deus não fosse Deus, mas isso lhe agradecemos, que nunca cederemos às tentações que o demónio fez a Cristo. Sabemos com humildade que só seremos gratos aceitando que nunca perceberemos e se disso tirarmos prazer. Não interessa perder tempo. Temos de senti-lo passar, para o não perdermos. Nunca percebi como se inventou a palavra sempre. Mas deixemos esse trabalho para os que vieram depois de mim e que lêem menos livros ainda do que eu, que poucos li.
Deduz-se do que tenho vindo a formular que gosto muito de dar voz no filme a vários textos. Por agora não conto mais por pudor. Refiro ainda a emoção de um filme povoado de Marias. Deixai-me que, citando o que o Padre António Vieira fazia antes de entrar no assunto de um sermão, eu vos lembre depois de verem este filme que faz muito bem rezar o Ave Maria. Por mais que nos custe julgar-nos pecadores:
Peçamos àquela Senhora, que só foi exceção deste pó, se digne de nos alcançar graça. Em latim:
Ave Maria gratia plena,
Dominus Tecum,
Benedicta tu inter mulieribus
et benedctus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria mater dei
ora pro nobis pecatoribus,
nunc et in hora mortis nostra . àmen.
Para mim a mãe do Ruben tem também a cara da Virgem e no seu ventre de grávida está um filho de Deus.
E o cão ouviu o tiro. E acreditou.
Luis Miguel Cintra
PATHOS, ETHOS, LOGOS ORIENTA O OLHAR, ENSINA A OUVIR, EDUCA O TATO, por D. Abade Bernardino Costa
A casa no andar de cima, o corpo, o encontro. No filme de Joaquim Pinto e Nuno Leonel a única alternativa ao mundo introvertido da Ângela é a casa no andar de cima. A Ângela está irremediavelmente fechada na sua prisão da qual pode apenas ver a sua vida, sem correr riscos, mas também sem viver. O apartamento que dispõe para alugar, no andar de cima, é o único prolongamento do seu olhar para a vida. Do lado oposto, o Cláudio passa necessidade, a sua esposa, Fabiana, precisa de uma casa para dar à luz, por isso não há outro remédio senão sair e arriscar. O Cláudio e a Fabiana passam necessidades, e é precisamente por isso que as suas vidas são vividas e não apenas vistas ou olhadas. A mente (da Ângela) olha a vida, enquanto o corpo (do Cláudio e a Fabiana) é ferido pela vida. O corpo pode passar necessidade, porque o corpo vive. Mas graças ao apartamento que está disponível para alugar, a Ângela encontrou o Cláudio e a Fabiana: a vida pode afinal ser um encontro. A Ângela, adulta, encontra um jovem casal. Qualquer um pode ser a Ângela adulta e qualquer um pode estar na pele do jovem casal e a qualquer um pode acontecer um encontro, isto é, a essência pura da comunicação. Não é preciso continuar a descrição do filme, porque aqui, no encontro, está já a possibilidade que derruba os rígidos muros de uma necessidade que oprime. Não há necessidade de um facto muito excecional, porque o excecional, miraculoso, está no encontro ... o resto é retórica. Também a comunicação pode ser apenas retórica do milagre, narração de uma notícia surpreendente, documentação de uma crónica. Por esse caminho não se conhece a esperança que está no milagre do encontro, que levou, posteriormente, ao acolhimento do Rúben, o filho que habitava o seio de sua mãe (Fabiana). Porque é que a nossa sociedade tele-comunicativa, é tão capaz de olhar, mas tão incapaz de esperar? Creio que o risco seja o de considerar o "tele" como uma prótese, mais ou menos tecnológica, do "comunicativo". Se isto acontece, é porque o ato de comunicar em geral é já entendido como prótese do homem e não como encontro para o qual é feito o homem.
O "meio" como premissa
O frequente recurso aos media, aos meios de comunicação, habituou-nos a esta palavra. E com esta palavra "meio" transmitiu-nos uma visão da realidade, dos outros e de nós próprios. Cada um de nós dá-se conta de si próprio pelo seu estar do lado de cá ou de lado de lá do meio. Estamos, portanto, enredados nesta lógica. O "meio" é a margem de um rio infinito que não é possível contornar. Só os anjos o podem saltar sem ter de o atravessar. Nós, citadinos de uma vila mediática, cremos mais nos anjos: parece que já não temos religião, invocamos mais os anjos do que cremos em Deus que assumiu a carne humana. Com a construção das realidades virtuais, talvez aspiremos a ser como os anjos. Em todo o caso, não há alternativa senão entre o meio e o anjo. Ou se atravessa o rio ou se salta o rio, porque não pode ser contornado, e, sobretudo, não podemos caminhar até à sua fonte. Se caminhamos sobre a terra, dever-se-á atravessar o rio para chegar à outra margem, para chegar ao outro; se não nos queremos molhar é preciso ser como o anjo: saltar o rio para imaginar a outra margem, para imaginar os outros. O meio é, portanto, mais consistente, mais infinito, mais visível, audível, tangível, mais presente com a sua fisionomia, a sua forte identidade, a ponto de nos obrigar a andar debaixo de água ou nos céus. Não se trata só dos meios modernos, mas também daqueles antigos, antiquíssimos. Mas o problema não está no facto de os meios serem novos ou demasiado velhos. O problema é a sua excessiva presença, tanto se trate das numerosas palavras do pregador medieval, ou da televisão constantemente acesa nas casas do homem do século XXI.
Algum anjo malvado convenceu a humanidade que a comunicação seja só presença a ocupar os espaços entre nós e os outros, entre nós e nós próprios. O meio é o anjo sempre presente, uma espécie de anjo custódio: apesar da sua constante presença, arrisca-se a não ter nada para proteger. À volta do meio só há vazio, e nós, esmorecidos diante do vazio, recorremos sempre ao meio tornando-nos cada vez mais vazios. Só o anúncio a uma virgem que concebeu sem conhecer homem nos pode salvar, portanto, sem meio. Eis alguma coisa que se deve conservar e proteger: o segredo de uma virgem mãe. Só a contradição. nos pode salvar: que uma virgem seja mãe e que uma mãe seja virgem. Para nós, entre a virgem e a mãe deve existir um meio, precisamente aquele meio que transforma uma virgem em mãe. Porém, tanto na Bíblia – como na primeira parte da triologia, Pathos -, é-nos anunciado uma possibilidade que nos escapa: que entre a virgem e a mãe haja uma relação i-mediata, isto é, não mediada, sem meio. O meio está ausente, e pode finalmente nascer a comunicação. Não a comunicação que se interpõe entre aqueles que comunicam, mas a modalidade da existência dos homens e das mulheres. A comunicação não é só a presença de um meio, mas também, e sobretudo, a sua ausência: é o seu ser o vazio ( a ausência dos pais) que permite o encontro posterior entre o Rúben e a Ângela, porque os pais já não existem.
O meio ferido, negado, ausente, é o meio de comunicação. Eu vejo o outro graças aos meus olhos, mas os meus olhos "desaparecem" à vista, para que possa ver o outro. Eu comunico com o outro graças ao corpo: não o corpo pesado de uma presença obtusa, mas o corpo vivente que estende as mãos para tocar, as orelhas para ouvir, os olhos para ver. O corpo não é o meio, não é o meio entre mim e o outro: o corpo sou eu e o outro. Muitas vezes e em muitas épocas o corpo tomou-se pesadamente presente para que fosse tratado como um meio. Não admira que, também, as próteses do corpo, a palavra, o livro, a rádio, o telefone, o cinema, a televisão e o computador, se tivessem transformado em meios pesadamente presentes. O asceta e o libertino querem um corpo presente para o poderem manipular, usar, transformar. E assim condenam-no a estar do lado de cá ou do lado de lá do corpo, isto é, sem corpo, sem vida, sem encontro, sem esperança. Mas o corpo subtrai-se a estes jogos impuros. O corpo é o ausente, o eu escondido que protege a nossa identidade; e chama para a ausência, para o escondimento, cada uma das suas próteses, cada meio de comunicação. O corpo não é o instrumento para comunicar, mas o anúncio de um encontro, não é o instrumento entre mim e o outro, mas o anúncio de mim e do outro. E o meio, como prótese do corpo, não está no meio para nos iludir que nos une, enquanto se está a escavar a sepultura que nos separa, mas é i-mediato lugar de encontro.
A contradição entre a virgem e a mãe é, portanto, a contradição entre o meio e o seu desaparecer para ser verdadeiramente meio de comunicação. O desaparecer é a essência do meio. Qualquer técnica refinada do meio está ou cai diante deste princípio: o meio é a sua ausência, e a técnica do meio é tudo aquilo que favorece esta ausência. Podemos dizer que o meio é o terceiro excluído: não é o terceiro entre dois que se comunicam, mas o modo de ser dos dois que comunicam. Se quiséssemos retomar a imagem do anjo, poderíamos dizer que o meio não é a visibilidade do anjo (mensageiro) mas é o anjo-que-não-se-vê. Nisto pode estar alguma coisa de inquietante. Mas não há nada de mal num meio oculto. Não está, porventura, oculta a gramática portuguesa quando a utilizamos para comunicar, sem pensar explicitamente nas suas regras? Se nos preocupássemos, explicitamente, com aquelas regras não poderíamos comunicar outras coisas. É precisamente porque ocultamos a gramática que a própria gramática nos permite comunicar. O ocultamento não é negativo até ao momento em que é assim para todos. Torna-se ou pode tornar-se perigoso e manipulativo apenas quando alguém se subtrai: nesse caso pode tomar-se o instrumento de alguém contra os outros.
Voltemos ao filme de Joaquim Pinto e Nuno Leonel. A trilogia narra as metamorfoses de uma Ângela adulta e de uma Rafaela inquieta que se autodenunciam. A metamorfose é a passagem do olhar a vida dos outros para a vivência da sua própria vida. Mas os próprios realizadores do filme podem ser apenas observadores; melhor, cada espetador pode ser apenas um voyeur. Isto acontece quando nos limitamos apenas a "ver o filme": em tal caso, o filme torna-se simplesmente a realidade. Como na filosofia hegeliana, a razão é a realidade, do mesmo modo, no contemporâneo hegelismo mediático, o filme é a realidade, o meio é a realidade. A i-mediação está entre o filme e a realidade, entre o meio e a realidade, entre a razão e a realidade. Mas, onde me encontro "Eu"? "Eu" não sou o caso fortuito dos jogos já feitos. "Eu" sou o ausente: o máximo que possa receber é identificar-me com a razão ou com o filme ou qualquer outro meio. "Eu" e a realidade são absorvidos na razão, no filme, no meio, como num indumento unisex. Falta o encontro, falta a Ângela, a Rafaela, o Cláudio e Fabiana e o Rúben. O filme fala de todos eles, e outros ainda, mas se se tomar um meio demasiado presente, renega aquilo que re-presenta (torna presente). Para não renegar, tem de desaparecer, tem que ser uma presença que se toma ausente. Só assim, "Eu" olho "através do filme", através da razão, através do meio. Só assim, "Eu" e a realidade estamos unidos sem endossar roupa unisex, somos Ângela, Rafaela, Cláudio e Fabiana, o Rúben ou até o Luís Miguel Cintra. Porque assim, ninguém pode jogar ao esconde-esconde atrás de um meio que nos manipula, porque o meio desaparecendo deixa nu àquele que gere o meio.
A Ângela e o casal (Cláudio e Fabiana) chamam a atenção, sobretudo, pela "diferença". O encontro amadurece nesta diferença, a comunicação é esta diferença. O meio demasiadamente presente faz desaparecer as diferenças, esfuma o encontro, impede a comunicação. A aldeia global do meio está habitada por indivíduos que não conseguem comunicar. As diferenças não existem, e aquelas que ainda subsistem são catalogadas com a etiqueta da estranheza. O êxito é a desconfiança, porque já não há um "outro" em quem confiar. Assistimos sempre mais ao funeral da esperança porque sepultamos a confiança. No filme do Joaquim Pinto e Nuno Leonel, a Rafaela é atacada pelo touro. O meio (o touro) pode ferir e também matar o corpo, isto é o que antecipa a vida. "Eu" sou feto, neonato, criança: "Eu" sou corpo que vive sem saber o que é a vida. O Corpo é a vida antecipada em relação a qualquer reflexão que eu faça, mediação ou registo da vida. O corpo sou "eu" como vida antecipada. O corpo é a comunicação imediata com a vida. A Rafaela encontra o gato com uma perna partida, ocupa-se do corpo, comunica com o outro. Não mata o touro ou o gato, mas deixa que o meio cumpra a sua parte, que é a de ser uma presença que sabe desaparecer. O próprio filme do Joaquim Pinto e Nuno Leonel deve desaparecer para se tomar o "meio através", o meio através do qual se regressa sempre ao corpo, à vida, à diferença, à esperança .... o meio de "comunicação" entre o eu e o "Outro".
A palavra entre som e silêncio
Um meio de comunicação é a palavra. Procura-se entender sempre alguma coisa quando alguém fala, procura-se saber o que significa aquela expressão, aquela frase, aquela conferência, aquele livro, aquele filme. A palavra põe-nos a caminho, à procura de um sentido. Se vem de longe, dos tele-móveis que caracterizam a nossa vida social, o caminho é encurtado, a procura mais veloz. O problema, porém, não está na cercania, mas na proximidade. Os sons do apartamento no andar de cima, do telemóvel do vizinho de viagem, os sons que perturbam pecam pela excessiva vizinhança e por nenhuma proximidade. A única procura que estimulam é a de nos afastar. Somos, portanto, sacudidos entre a procura e o aborrecido, entre o encontrar e o escapar. Em ambos os casos a palavra é o meio que, com a sua presença, nos convida a caminhar, a mover-nos para qualquer direção. A palavra está na ordem do andar, vir, procurar, escapar. Vivemos o pesadelo de obedecer a mil palavras que invadem o nosso espaço vital. Todos nos dizem, ou, pior, "sugerem obrigatoriamente" o que devemos fazer. E se quiséssemos desobedecer para escutar apenas o que queremos, o que nos faz sentir bem? E se quiséssemos ser os heréticos da palavra para conhecer a verdade da vida? Se quiséssemos uma palavra que ressoe sem ordenar, que educa sem exortar, que estimula sem sugerir?
Os antigos Pontos do teatro assopravam em voz baixa também as palavras que o ator devia dizer (gritar) ao público. O Ponto tinha para todas as palavras um único tom, porque devia apenas recordar ao ator o que devia dizer. O ator, por sua vez, tinha uma multiplicidade de tonalidades, porque devia fazer "sentir", "degustar", "tocar", o que estava a dizer. A palavra é som e ressonância. A palavra, por exemplo, é o som que me descreve os objetos da casa, mas é também a ressonância das paredes que me faz sentir em casa; a palavra é o som ao qual se entrega um significado do mundo, mas também é a ressonância do mundo ao qual pertenço. O risco constante é o de perder o equilíbrio entre os dois aspetos, pressionando apenas a palavra como meio útil para instruir e nos instruir, ou para persuadir ou nos persuadir. Um pouco de conhecimento, um pouco de emoção ... um pouco de nada. A palavra fala-nos da realidade, de nós próprios, do mundo. E com a vontade impetuosa de nos falar sobre o mundo, toma-se ela própria um mundo, um mundo de palavras. Como os outros meios, também a palavra corre o risco de estar demasiadamente presente, corre o risco de se tomar embaraçosa como uma mala para uma viagem que se nunca se chega a fazer. Mas o mais surpreendente é que ela, a seu modo, nos faz viajar, isto é, correr e percorrer os significados da vida até nos extenuarmos sem nos deixar repousar na vida. Sem dúvida, poucas coisas são importantes como os significados da vida: mas entre aquelas poucas coisas, está a própria vida.
O jogo entre comunicação e esperança é absolutamente decisivo. A palavra comunica-nos os significados da vida, mas não conseguimos esperar até que a vida não ressoe em nós. Procurai falar interruptamente por dez minutos e, depois, improvisadamente, calai. Naquele calar improvisado dar-vos-eis conta da potência da palavra: a potência de uma palavra que graças ao silêncio não distrai, mas restitui ao mundo. O silêncio faz da palavra não um pensamento sobre o mundo, mas um som do mundo. Assim, a comunicação toma-se esperança, porque o significado da vida não é separado da vida. No entanto, quantas vezes o silêncio é embaraçoso, de tal maneira que quando não falamos, não sabemos o que fazer, como estar com os outros. O outro está ali, no mesmo elevador, como uma presença insuportável se não conseguirmos trocar pelo menos duas palavras. Nós vivemos na presença da palavra e não do outro. O silêncio é embaraçoso porque nos chama improvisadamente à presença do outro. É melhor o barulho que este embaraço; melhor o murmúrio, a palavra neutra, a mais neutra possível. O outro é indiferente e deve permanecer indiferente. O silêncio faz soar o alarme porque não nos deixa na indiferença: chama a palavra à ausência, para nos fazer fugir da indiferença. Mas, não poderia chamar a palavra à ausência se, acima de tudo, não a deixasse ressoar. O silêncio joga com o som, e neste jogo a palavra não se limita a desempenhar um papel noético (cognoscitivo), mas toma-se uma experiência estética (sensível).
O confronto com todos os meios que amplificam a voz deve ter presente esta dinâmica. Esses amplificadores encurtam as distâncias, mas não garantem automaticamente a proximidade típica da experiência estética. O telemóvel permite que nos sintamos sempre em casa, porque pode intercetar-se a voz familiar até quando estamos longe ou em viagem. As mensagens digitais nos telemóveis fazem o mesmo com a palavra escrita. Não podem negar-se os aspetos positivos desta oportunidade eletrónica. Nem sequer podem negar-se os riscos. Riscos que se encontram também na comunicação face a face. Podemos estar a poucos centímetros da pessoa com quem se fala, mas não a sentir próxima: podemos olhá-la e escutá-la como alguma coisa muito distante, pouco significativa, ou até perigosa. É como se um suspeito mais ou menos escondido nos impedisse de transformar a cercania em proximidade. Do mesmo modo, o telefone e, em geral, os meios eletrónicos, podem encurtar as distâncias, mas evitando favorecer a proximidade. A mão com que saudamos, os olhos com que vemos, quem está a pouca distância, a voz com que dialogamos, assim como também o telefone ou o computador, podem ser apenas meios de comunicação cuja presença parece ter sido feita de propósito para nos "defender" das pessoas com que comunicamos. O risco, por outras palavras, é o de confiarmos mais no meio de comunicação do que naqueles com quem comunicamos, ou até de nos servirmos de uma espécie de filosofia alternativa, segundo a qual o meio e o interlocutor são a mesma coisa. O facto surpreendente é que se as coisas fossem assim, se não houvesse nenhuma distinção entre interlocutores e meios, seria preciso inventá-la, porque aquela complexa realidade que chamamos comunicação existe precisamente como complexa, isto é, enquanto ampla rede de diferenças. A comunicação está precisamente na diferença entre quem fala, quem escuta e o meio. No filme de Joaquim Pinto e Nuno Leonel, a voz do Luís Miguel Cintra, a música e outros sons, não estão lá para dar significados, mas sobretudo para manifestar a ausência, o silêncio, que é o modo com que o meio permite aquela diferença.
A realidade é irresolúvel numa representação
Na terceira parte da trilogia, Logos, escuta-se uma voz que discursa sobre a imagem que se encontra entre a luz e a sombra. Se estivermos atentos, a religião gira à volta da revelação feita de imagens, concentrada n'Aquele que é verdadeiramente a imagem de Deus. Há, portanto, uma revelação que pode sufocar a fé, um excesso de revelação que quer iluminar as sombras. A revelação é a sombra que desvela a luz, e não a luz que sufoca a sombra: tudo aquilo que se mostra provém daquilo que permanece ainda profundamente escondido. Tal como acontece com a vida em geral, acontece do mesmo modo para a vida religiosa, é muito importante não esmorecer as proporções entre visível e invisível, entre a luz e sombra. A sombra vê-se, mas como aquilo que se subtrai à vista plena e total. A sombra desvela a luz (porque em todas as partes há sempre uma fonte de luz) precisamente porque não está completamente debaixo da luz. Por conseguinte, se sabemos que o projetor e o escuro se excluem, é preciso saber também que a luz e a sombra se atraem e interagem. Tomemos em consideração um dos meios de comunicação mais prolixos, a televisão. Ela pode reduzir-se a um aparelho, apagado ou aceso, escuro ou luminoso. A televisão pode matar a imagem, ou porque é um ecrã escuro, ou porque é o instrumento que acende os projetores sobre a vida. Prestemos a atenção, o ecrã aceso não é uma imagem, tal como acontece com o ecrã apagado que também não é uma imagem. Se o meio (a televisão) está demasiado presente, se está demasiado "no meio", desaparece o papel da imagem, o jogo "insolúvel" entre luz e sombra.
O ponto é exatamente este: a realidade é irresolúvel numa representação, ainda que seja de alta-definição. Os pintores que inauguraram a época contemporânea da arte não tiveram escrúpulos em alterar as formas clássicas da representação estética, mas inseriram-se, a seu modo, na realidade irresolúvel, isto é, aceitaram simplesmente a realidade como ela é verdadeiramente. Cada arte, provavelmente, é expressão da realidade irresolúvel, mas grande parte da arte contemporânea insistiu particularmente nesta insolubilidade. Até os meios eletrónicos, e em particular o computador, se deixaram arrastar por esta dinâmica, mais do que representar as obras de arte, tomaram-se parte integrante da própria obra de arte. Isto permitiu que o destinatário interagisse mais intensamente, a ponto de se tomar coautor da obra. Bem vistas as coisas, cada obra de arte não é simplesmente a obra, mas a complexa interação entre autor, destinatário e o material: a obra não é o instrumento, não é um meio ou "o que está no meio" entre compositor e espetador, mas é a dinâmica irresolúvel do autor, do destinatário e do material. A obra de arte, tirada do seu pedestal, reencontra o contexto da sua génese como arte: naquela génese está sempre um destinatário. Desenhar a perspetiva, por exemplo, com objetos mais pequenos e objetos maiores para transmitir a profundidade, é uma dissimulação que nasce da exigência de ter em conta aquele que observa. A arte é a perspetiva que evoca o espetador, tomando-o, de qualquer modo, ator.
O filme educa o tato
Voltemos ao filme de Joaquim Pinto e Nuno Leonel e àquela rede de imagens à qual está entregue a ligação entre a Ângela, a Rafaela, o casal Cláudio e Fabiana e o Rúben. O momento central é o encontro, o contacto. A imagem, no seu máximo esforço, procura entrar no reino do tato. Ela responde à sua antiga vocação de desenhar o encontro respeitando o tabu do contacto. Tocar significa eludir os espaços que separam as pessoas, significa infringir o tabu que protege a intimidade. Tocar é perigoso: a Ângela e a Rafaela, de mãos nos bolsos, mochila às costas, tocam mais com os olhos do que com as mãos! Que alívio poder recorrer apenas aos olhos, realizando o encontro sem qualquer perigo! Também as sensações ligadas ao tato são um medium, como a palavra e a imagem, mas é um medium demasiado imediato. Talvez em nenhum outro caso como neste, cercania e proximidade podem ser o oposto uma da outra. O violador está pertíssimo da sua vítima, mas de uma forma que é a negação de qualquer proximidade. Naquele estar perto não há partilha; por outro lado, é precisamente a partilha que toma próxima os enamorados, como o Cláudio e a Fabiana. A partilha! Eis um aspeto da comunicação que exige um pouco da nossa atenção. A comunicação entre o Cláudio e a Fabiana toma-se um verdadeiro contacto quando começam a partilhar alguma coisa, quando se cria uma intimidade à volta do "segredo" partilhado: a gravidez.
O jogo está precisamente no tato, partilha e segredo. O contacto aproxima tanto que chega a dar lugar às formas típicas da vista. A coisa tocada não se pode ver (pelo menos naquele espaço que está coberto pela mão). Sabemos que as perceções tácteis pertencem às formas de representação, mas percebemos também que nelas falta aquela distância típica das formas mais prolixas e comuns de representação. Há urna subtração de representação, de visão, de publicidade; há alguma coisa que muito mais se assemelha à partilha de um segredo. A condição para mover-se no espaço da proximidade, que não é um simples "estar perto", é o contacto: a comunicação que não nos deixa sós. A informação pública que favorece o conhecimento rejeitando o segredo, tem muitos aspetos úteis e, em alguns casos, indispensáveis para a vida social. Mas deixa também o sabor de uma solidão desconfinada. A comunicação táctil que se move na ordem da proximidade, é o ato de se reconhecer como uma identidade específica, precisamente porque se partilha o segredo com outros. O segredo é a nossa identidade e a possibilidade de entrar em con-tacto com outras identidades. O segredo assume aquele aspeto de não comunicável que realiza a mais intensa das comunicações.
O filme de Joaquim Pinto e Nuno Leonel ensina-nos que ainda há esperança para cada um de nós: a rigidez da Ângela curva-se perante uma criança, quando decide acolher o Rúben; a indiferença da Rafaela é afinal e apenas aparente, ela não só abraça o criado, com suas criaturas, como também agarra o desafio dos médicos sem fronteiras, que envolve o seu corpo, a ponto de oferecer a sua vida. Trata-se da esperança de uma carne que consegue tocar o mundo, os outros, a si própria. A esperança de uma proximidade que não é cercania que invade, comunicação extenuante, mas contacto íntimo e respeito, permuta envolvente e livre. Um ponto central da comunicação assenta precisamente no antigo problema humano de conjugar envolvimento e liberdade. Um excessivo envolvimento compromete a liberdade de juízo e de movimento; uma liberdade excessiva compromete aquele envolvimento que toma possível as relações com os outros. As realidades virtuais cada vez mais promovidas pelos recentes meios eletrónicos, têm um notável poder de envolvimento que acabam por nos colocar em contradição com o desejo, igualmente forte, de liberdade. Também o tato e o contacto podem ser virtualizados. Mais uma vez, vem em nossa ajuda a ausência: uma carne que consegue tocar o mundo, os outros, a si própria, mas que experimenta também a interrupção, o silêncio, o "não me toques" do ressuscitado. A ressurreição da carne é o anúncio de um corpo que mesmo podendo tocar e ser tocado, não se esgota completamente no tocar. Deve haver já um pouco de ressurreição na nossa comunicação se quisermos evitar a prisão de um excessivo envolvimento e a estranheza de uma excessiva liberdade. Aquilo que toco permanece para sempre intocável. Bem vistas as coisas, a condição do segredo, de que falávamos acima, é exatamente o contacto profundo que nos subtrai à ânsia de tocar tudo e sempre, tal como o ver e dizer tudo e sempre. Pathos, Ethos, Logos é para o espetador a concessão de um "intervalo" comunicativo (táctil, visivo, verbal), para que aprendamos a ver, ouvir e a tocar sem nos perdermos na comunicação. Pergunto-me, por. isso, se o valor último do filme Pathos-Ethos-Logos não seja precisamente o de criar uma suspensão na qual o espetador repousa junto à margem do rio, não para o atravessar, mas para o percorrer até à fonte.
D. Abade Bernardino Costa